
Dia de Poesia – Célia Félix – Pode correr até onde quiser

Blog de de Alice – Alinhavando letras
A todas as pessoas que passaram pela minha vida; às que ficaram e às que não ficaram; às pessoas que hoje são presença, àquelas que são ausência ou apenas lembrança… – desde 2008 –

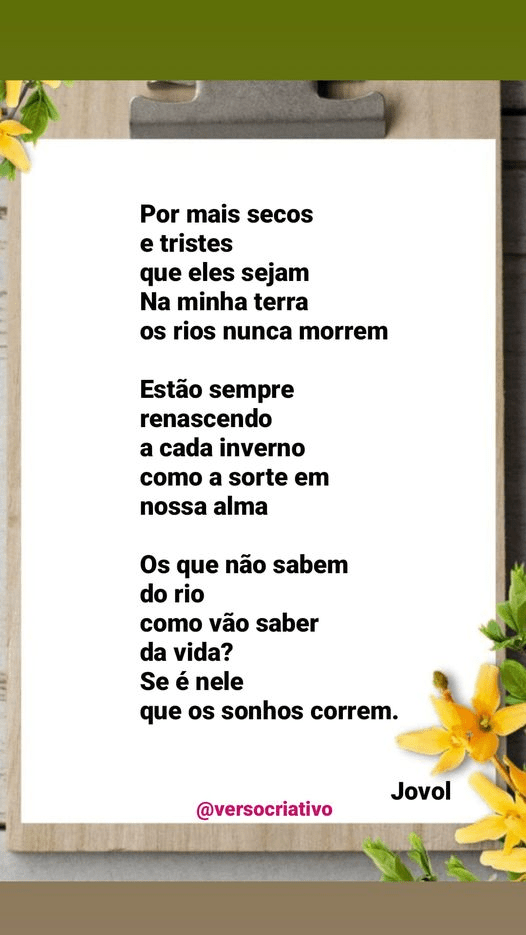

Naquele dia “12 de abril de 1945” eu vi meu primeiro campo de horrores. Ficava próximo à cidade de Gotha. Nunca fui capaz de descrever minhas reações emocionais quando encarei pela primeira vez a evidência inquestionável da brutalidade nazista e o desrespeito cruel a qualquer senso de decência. Até então eu só conhecia aquilo em termos gerais ou através de fontes secundárias. Estou certo, no entanto, de que jamais, em qualquer momento, experimentei uma sensação de choque igual. Visitei cada canto e esconderijo do campo pois senti que era meu dever estar em posição, a partir de então, de testemunhar em primeira mão sobre aquelas coisas, caso em algum momento surgisse a crença ou hipótese de que “as histórias de brutalidade nazista foram apenas propaganda”. Alguns integrantes da equipe de visitação foram incapazes de prosseguir com o suplício. Eu não só o fiz como, assim que retornei ao quartel-general de Patton naquela tarde, mandei mensagens a Washington e Londres requisitando que ambos os governos enviassem instantaneamente à Alemanha um grupo aleatório de editores de jornal e grupos de representantes das legislaturas nacionais. Senti que a evidência deveria ser apresentada imediatamente aos públicos americano e britânico de uma maneira que não deixaria lugar para dúvidas cínicas.
……………………………………………………………….
A evidência visual e o testemunho verbal da fome, crueldade e bestialidade foram tão esmagadores que me deixaram um pouco enjoado. Em um determinado cômodo, eles haviam empilhado vinte ou trinta homens nus, mortos de fome, e George Patton não foi capaz nem de entrar. Ele disse que ficaria enjoado se o fizesse. Eu fiz a visita deliberadamente, com a intenção de ser capaz de dar um testemunho em primeira mão dessas coisas caso no futuro surja uma tendência em atribuir essas acusações à mera “propaganda”. (Dwight D. Eisenhower, Comandante Supremo das Forças Aliadas)
Hoje, 27 de janeiro, é o dia dedicado à lembrança dos horrores da Segunda Guerra. Fixado nessa data, na qual, no ano de 1945, os soviéticos libertaram os prisioneiros do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau.
Mas não um dia de comemoração. Porque nada há a ser comemorado. Só muita lembrança triste. Opressiva.
Convivi com sobreviventes de alguns desses lugares. Chorei todas as vezes em que ouvi suas histórias.
Um traço comum entre todos era contar a história diversas vezes e mostrar o número tatuado no braço, como se tivessem medo que não eu não acreditasse. Eu sempre acreditei. Essa página horrível da história sempre me tocou profundamente, como se eu tivesse participado de tanto sofrimento.
E os relatos eram sempre assemelhados – crianças, ainda, levados com a família, não sabiam para onde estavam indo. Não havia nenhum tipo de divulgação do que viriam a sofrer, a que seriam submetidos. Ao chegarem, as famílias eram separadas – homens para um setor, mulheres para outro. Era a última vez em que se viam.


A maioria relata que a mãe não aguentou muito tempo, morrendo logo, de fome, fraqueza ou doenças ali existentes.
Outros relatam que sobreviveram porque eram os mais jovens da família e viram o pai / a mãe / irmãos ou irmãs mais velhos morrerem ou serem mortos.
Quando da chegada dos aliados, esses sobreviventes (sobreviventes?????) foram encontrados em condições indescritíveis, de acordo com seus salvadores.
Por isso 27 de janeiro não é dia de comemoração.
É dia de recolhimento, meditação. De pensarmos como a humanidade pode assistir a tal horror. E lutarmos para que o holocausto não seja esquecido e muito menos negado, e sempre lembrado nesse dia dedicado à memória das vítimas.
Marian Turski, 93 anos, judia polonesa sobrevivente, nos adverte : ”Auschwitz n’est pas tombé du ciel soudainement, Auschwitz trottinait, marchait à petits pas, se rapprochait, jusqu’à ce qu’il arrivât ce qui est arrivé ici” (Auschwitz não caiu do céu repentinamente, Auschwitz trotou, andou a passos pequenos, aproximou-se, até que aconteceu tudo o que aconteceu aqui), e termina suplicando aos políticos, poderosos e ao povo: “Não sejam indiferentes!”
Nunca estaremos totalmente livres de outro regime de horror. Mas se não negarmos que esse já existiu, se estivermos alertas aos primeiros passos (desde a abjeta substituição da bandeira de um país pela bandeira de um partido político nas manifestações públicas, por exemplo), unidos no bem e em nome do bem, conseguiremos evitar se repita.
Mas – volto a afirmar – hoje é para relembrar – ou não deixar esquecer, mas não é dia de comemorar nada, exatamente nada.

Percebeu, de longe, o movimento no que parecia ser uma sacola de plástico, dessas comuns em mercados, deixada na calçada, encostada no muro.
Assustada, diminuiu bem o passo.
Olhou em volta. Nenhum pedestre nas redondezas. Alguns carros passavam pela rua, que não tinha portas nem portões – grandes muros em cada lado da rua. Nenhum sinal de vida. Exceto por ela, cujo coração já conseguia ouvir batendo, entre o medo e a emoção. E a sacolinha plástica que se mexia.
Sempre tivera um pouco de medo desse trecho do caminho. Não contava para ninguém, com receio das inevitáveis gozações. Eram mais ou menos trezentos metros – três quadras com condomínios fechados em sequência, até atravessar a avenida e a ponte sobre o riacho e entrar no bairro em que morava. Às vezes podia ouvir alguns gritos de crianças brincando do outro lado do muro. Onde nunca pisara e acreditava que jamais entraria. Eram feudos para pessoas de outra classe econômica, que não a sua, pequena trabalhadora-estagiária.
Desde que o pai morrera vinha arrumando subempregos, pois era permitido que menores passassem fome ou entrassem para a vida de crime nesse país, mas jamais tivessem uma carteira de trabalho assinada e adquirissem a dignidade que assumir o próprio sustento pode dar a uma pessoa.
De qualquer forma, a mãe, ela e o irmão trabalhando e ganhando pouco era o suficiente para comerem o mês inteiro. Sem luxo. Contando centavos. Mas sobreviviam.
Já fora feliz. Quando o pai era vivo, ganhava razoavelmente bem, e, juntamente com o salário da esposa, era possível manter a casa e os filhos, e ela ainda tinha o luxo de ter um cachorrinho – que adorava. Piteco, um vira-latas que fora atropelado perto da casa. Ela o socorreu, cuidou dele e ficaram inseparáveis.
Um dia Piteco desapareceu misteriosamente. O pai ainda ajudou a procurar. Mas nunca foi encontrado.
Tinha saudade desse tempo. Saudade do pai. Saudade do Piteco.
A sacolinha se mexeu com mais força e deu um “tranco”.
Parou assustada. Não sabia se voltava correndo, se corria em direção à casa ou se chegava perto.
O coração disparou de vez. Ficou sem fôlego. Foi andando quase no meio-fio, apavorada.
Quando chegou na frente do estranho pacote, escutou um som fraquinho. A curiosidade venceu o medo. Aproximou-se e cutucou a sacola – que continha um pano dentro, usando a ponta da sombrinha. Ouviu um misto de latido e uivo.
Tentou levantar a sacola com a sombrinha. Mas o pacote virou, caiu e de dentro dele saiu um minúsculo cachorro peludinho, de tons branco e dourado. Mal conseguia andar de tão pequeno.
Esquecida do medo e da saudade, abaixou-se e o pegou nas mãos. Quase não pesava nada.
Sentindo uma alegria meio esquecida, já quase desconhecida, saiu correndo em direção à própria casa, levando nos braços seu tesouro.
Encantada. Leve. Feliz…
(Imagem: banco de imagens Google)

Não é bem o amor que me mata.
O que acaba comigo é esta distância que não nos separa.
Esta distância que nos aproxima. A distância que eu encurto de cada vez que dou comigo a sonhar-te, e que, o sonho me parece tão real que até há espaço para um abraço.
O que me mata é ter apagado os milhares de quilómetros que o mundo desenhou entre nós para te sentir junto a mim em cada segundo que passa.
O amor é assim, é um veneno que nos torna viciados nessa necessidade de o termos sempre por perto. O amor é o alimento que nos tira a fome, para nos dar vontade de vivermos nos braços de quem amamos.
O amor mata-nos e obriga-nos a continuarmos vivos e com o eterno desejo de o celebrarmos a cada minuto das nossas vidas.
E no entanto, eu morro de amor por ti todos os dias.
Morro de amor, todos os dias quando procuro agarrar-me a esta paixão avassaladora que me mata, por te desejar tanto.
E esta morte dá-me vida.
É tão bom morrer todos os dias para te poder continuar a amar no dia seguinte. Para poder continuar a sonhar com tudo o que ainda não vivemos e que eu vou desenhando nos nossos sonhos.
O amor é o melhor veneno que a vida me ofertou.
É o alimento que sacia sem me dar peso, pelo contrário desde que descobri este amor tenho tanta leveza que consigo viajar até ti a toda a hora.
Este amor é o renascer de uma vida esquecida. É a morte anunciada de uma solidão que nunca foi desejada.
É o final de um drama que nunca quis escrever.
Este o amor é o primeiro passo para deixar que tudo possa recomeçar a viver.
(Imagem: banco de imagens Google)

Aqueles velhos barcos ali esquecidos
Estão no canto da praia abandonados
Estiveram tantos dias no mar
E hoje, inúteis, repousam na areia
Foram tantas glórias conquistadas
Tantas noites navegando felizes
Mas agora perderam o motivo
E não se lançam bravios às ondas
São como nossos velhos amores
Deixados num canto qualquer da alma
Já não mais faz sentido buscá-los
Muito menos sentir ou reviver
Velhos barcos – amores passados
Ali, tristemente se deixam ficar
Sonham – talvez – renascerem um dia
Para de novo navegarem no mar
Desafiando ondas e ventos
Correndo ligeiros na branca espuma
Sentindo o prazer das velhas emoções
Revivendo a alegria da antiga paixão
Sem temer noite nem tempestade
Enfrentando perigos nos mares
Eram jovens, fortes, destemidos
Hoje, velhos barcos esquecidos na areia
Barcos tristonhos, deixados ao léu
Praia deserta, sem brilho sem sol
Esses barcos, velhos amores passados
Essa praia, meu coração já sangrado
(Imagem: foto de Carlos Eduardo Ferreira)